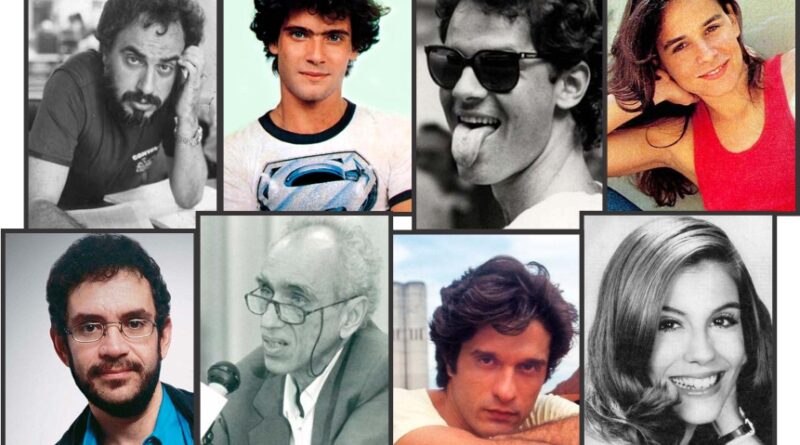Aids chegou ao Brasil há 40 anos e trouxe terror, preconceito e desinformação
Markito foi um dos estilistas mais festejados do Brasil. Entre o fim dos anos 1970 e o início dos anos 1980, ele desenhou vestidos de alta costura para estrelas nacionais como Sônia Braga, Xuxa, Mila Moreira e Marília Gabriela, além das americanas Diana Ross, Liza Minnelli e Farrah Fawcett.
Uma das explicações para Markito não ser hoje tão lembrado está no fato de sua carreira ter sido curta demais. Ele morreu tendo apenas 31 anos de idade, em 4 de junho de 1983, em decorrência da aids — na época chamada pelos jornais de “câncer gay”.
Alguns brasileiros já haviam perdido a vida pela mesma razão, com o sistema imunológico colapsado, mas os médicos não sabiam que doença era aquela. Como Markito morreu nos Estados Unidos — país pioneiro ao apontar, em 1981, a existência da aids —, o diagnóstico dele pôde ser fechado com segurança.
O estilista foi a primeira figura pública do Brasil vitimada pela aids. Por essa razão, pode-se dizer que faz exatos 40 anos que os brasileiros temem o HIV e lutam contra a epidemia.
Reportagem: Ricardo Westin/ Agência Senado
Documentos dos Arquivos do Senado e da Câmara, em Brasília, mostram que a aids foi uma preocupação constante da Assembleia Nacional Constituinte reunida em 1987 e 1988. Senadores e deputados encarregados de elaborar a atual Constituição chamaram a doença de “peste do século”, “desgraça que aflige o mundo” e “a maior tragédia na humanidade em todos os tempos”.
Os papéis históricos indicam também que aqueles primórdios da epidemia foram dominados por preconceito, terror, desconhecimento e opiniões equivocadas.
Na época da Assembleia Nacional Constituinte, infectar-se com o HIV significava receber uma sentença de morte. O único tratamento disponível era um medicamento chamado AZT, que dava alguma sobrevida aos doentes.
Segundo os próprios constituintes, o Brasil era o segundo país do mundo com o maior número de pessoas infectadas com o HIV. Perdia apenas para os Estados Unidos.
Mais de uma vez, senadores e deputados fizeram uso dos microfones para anunciar que alguma personalidade soropositiva havia perdido a vida. Em maio de 1988, por exemplo, o deputado Eduardo Jorge (PT-SP) discursou:
— Quero, com pesar, registrar o falecimento, no último fim de semana, do sociólogo Éder Sader, nosso companheiro do PT de São Paulo e presidente da Associação dos Sociólogos do Estado de São Paulo. Com uma longa trajetória de luta pelo socialismo no Brasil, ele passou por todo o período de enfrentamento da ditadura militar e foi obrigado a exilar-se. Hemofílico, foi contaminado com o vírus da aids através de uma transfusão de sangue.
Quatro meses antes, o deputado José Genoino (PT-SP) havia subido à tribuna para anunciar a morte do cartunista Henfil, que trabalhava no jornal de humor O Pasquim e também era hemofílico:
— Não poderíamos deixar de expressar aqui a nossa dor diante desse acontecimento infausto que abalou o nosso país. E a bancada do Partido dos Trabalhadores informa à Casa que o nosso líder Luiz Inácio Lula da Silva e a companheira Benedita da Silva não estão aqui para votar a matéria constante da pauta porque acompanham o enterro do grande companheiro desaparecido. A tragédia da morte de Henfil deve servir como um grito de esperança para que as autoridades e o povo encarem esse grande problema da aids com outra postura, com seriedade e maiores cuidados.
Havia parlamentares que discordavam do alerta de Genoino. Para eles, o governo não deveria gastar tanto dinheiro público no combate à epidemia do HIV.
— É preciso que o Ministério da Saúde não concentre suas energias somente no combate à aids. Existem males seculares, como a malária, que matam muito mais e para os quais estão quase abandonadas as pesquisas de soluções — opinou o deputado Mário Maia (PDT-AC).
— Vemos o Brasil a reboque de uma campanha contra a propagação da aids. No entanto, a aids mata infinitamente menos que a fome. A fome, porém, não merece nenhum trabalho mais abrangente e profundo para sua erradicação. A cada dois minutos, dizem as estatísticas, morre de desnutrição uma criança. Não me consta que seja essa a média de casos fatais determinada aos aidéticos — criticou o deputado Ivo Mainardi (PMDB-RS).
Os constituintes chegaram a ouvir um pronunciamento negacionista da aids.
— Nós, médicos, não somos os responsáveis pela falta de saúde neste país. Não somos os responsáveis pela falta de assistência aos hansenianos e aos tuberculosos e pela falta de alimento. Morrem de inanição nesta pátria cinco crianças a cada sete minutos, mas este governo fica fastando 12,5 milhões de cruzados na propaganda de TV com uma doença que nós nem temos ainda, que é a aids — discursou o deputado Chico Humberto (PDT-MG).
O deputado e médico Raimundo Bezerra (PMDB-CE) alertou para a possibilidade de os mosquitos que se alimentam de sangue passarem a disseminar o HIV. O deputado Onofre Correa (PMDB-BA) sugeriu que o governo passasse a testar todas as pessoas que desembarcassem no Brasil e impedisse a entrada das soropositivas.
Até mesmo teorias da conspiração foram ventiladas.
— Quem não ouviu falar na suposição de o vírus da aids ser cria de laboratório? Quem não ouviu falar do produtos genéticos de laboratório que, se fossem mal-usados, destruiriam a humanidade? — perguntou o deputado Mauro Miranda (PMDB-GO), pedindo que a nova Constituição previsse uma fiscalização rigorosa do trabalho dos cientistas.
De tão aterrorizante, a aids foi usada com frequência por constituintes como metáfora para criticar os adversários políticos.
— O governo da Nova República, desmantelado politicamente, cirrótico e irremediavelmente aidético, apressa-se em cometer mais uma inominável violência contra os interesses nacionais. Aprontou suas malas e viaja para Nova York para uma vez mais submeter-se aos desígnios subalternos do Fundo Monetário Internacional — discursou o deputado Amaury Müller (PDT-RS).
— Como bem disse um matuto da minha terra, o centrão [grupo político] é uma das quatro pragas do Egito que caíram sobre o Brasil neste ano. Segundo o matuto, as outras pragas são a aids, a carestia e o [acidente em Goiânia com o] césio-137 — disse o deputado Maurílio Ferreira de Lima (PMDB-CE).
Preconceito, terror, desconhecimento e opiniões equivocadas à parte, houve vozes sensatas na Assembleia Nacional Constituinte. A deputada Anna Maria Rattes (PMDB-RJ), por exemplo, denunciou que as pessoas com HIV estavam sendo injustamente vítimas da discriminação:
— Evitar a doença não é o mesmo que evitar o doente. Uma coisa é o comportamento que nos poderá colocar mais perto ou mais longe do contágio. Outra coisa é a aceitação do próximo totalmente, mesmo aidético. A falta de informações verdadeiras não pode fazer do contaminado um pária, com a desculpa infeliz de proteger a sociedade, culpada única por atos e omissões deste e de novos flagelos que ainda surgirão.
A Assembleia foi palco de debates que se mostrariam fundamentais para enfraquecer a epidemia do HIV no Brasil. O principal deles foi o referente à doação e à transfusão de sangue humano.
Na década de 1980, diante da não realização de testes, sangue de doadores infectados era transfundido em pacientes até então livres do HIV. Segundo dados da época, a transfusão de sangue era responsável por 15% das contaminações no Brasil. Nos Estados Unidos, por apenas 0,1%.
As maiores vítimas foram pessoas como o sociólogo Eder Sader e o cartunista Henfil, que em razão da hemofilia precisavam de transfusões constantes de sangue. A aids simplesmente devastou a população hemofílica do Brasil.
— O sangue não pode ser uma arma contra o ser humano, mas, sim, a favor dele. Não é possível que sobrepaire, como hoje existe no país, essa incerteza. Toda vez que se tem necessidade de fazer uma transfusão de sangue, fica-se em pânico — disse o deputado Carlos Sant’Anna (PMDB-BA).
— Além da aids, doenças como sífilis, malária, hepatite e Chagas são transmitidas em largas escala porque bancos de sangue particulares não fazem testes para garantir a qualidade do material coletado. Esses testes são muito caros. Não sendo feitos, permitem a economia de custo e o aumento de lucros — denunciou o deputado Vicente Bogo (PSDB-RS).
Cerca de 80% dos bancos de sangue estavam nas mãos da iniciativa privada, que, para conseguir o maior número possível de sangue, remuneravam os doadores.
Numa das audiências públicas da Assembleia Nacional Constituinte sobre a necessidade de criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o médico sanitarista e presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Sérgio Arouca, fez aos parlamentares um relato chocante:
— Ontem mesmo, fomos obrigados a fazer uma intervenção em um banco de sangue no Rio de Janeiro que pegava moradores de rua e mendigos no centro da cidade. Nesses mendigos, foi realizado o teste de aids e descobrimos que pelo menos 7% deles estavam contaminados. Entre os contaminados, um grande número era vendedor de sangue.
O deputado Ferreira Lima (PMDB-PE) defendeu:
— Precisamos acabar com o degradante e odioso tráfico do “ouro vermelho”. A estatização dos bancos de sangue é a única forma de normalizar esse cruciante problema em nosso país.
O deputado Mário Maia apoiou a ideia de incluir na Constituição a proibição da doação remunerada e a estatização dos bancos de sangue:
— No Brasil, são estatizadas as atividades de correios, telefonia, energia elétrica e petróleo. No entanto, o sangue humano, parte fundamental da vida, é tratado até com desprezo por muitas instituições, como numerosos bancos de sangue que não observam as menores exigências técnicas, científicas ou mesmo humanitárias.
O sociólogo e ativista dos direitos humanos Herbert de Sousa, que havia se infectado com o HIV numa transfusão, foi à Assembleia Nacional Constituinte defender o rigor na questão do sangue.
Betinho, como era mais conhecido, era irmão do cartunista Henfil e do músico Chico Mário. Todos os três tinham hemofilia. Henfil e Chico Mário morreram no início de 1988. Betinho, em 1997.
A pressão de Betinho e da Assembleia Nacional Constituinte foi importante. O Ministério da Saúde criou regras exigindo a testagem do sangue e proibindo a remuneração dos doadores. A transfusões no Brasil se tornaram seguras.
Ao longo destes 40 anos, desde a morte de Markito, diversas outras mudanças vieram para reduzir o poder devastador do HIV.
Em 1996, os cientistas lançaram o coquetel antiaids, uma combinação de medicamentos capaz de tornar o vírus indetectável no organismo, proteger o sistema imunológico e impedir que a pessoa infecte outras. Antes uma sentença de morte, o HIV passou a ser uma doença crônica.
No mesmo ano, uma lei proposta pelo senador José Sarney tornou obrigatória a distribuição gratuita do coquetel pelo SUS, incluindo todos os remédios que viessem a ser desenvolvidos no futuro.
Tal norma foi necessária porque, apesar de a Constituição de 1988 estabelecer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a equipe econômica do governo pressionava contra a distribuição do coquetel em razão dos custos elevados.
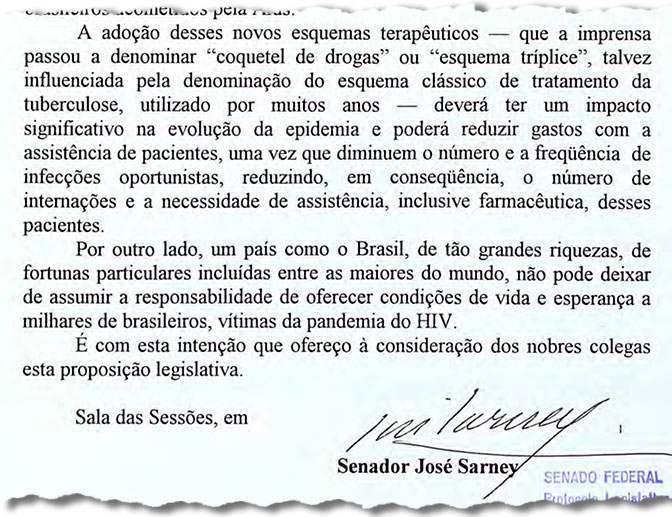
Em 1998, a Lei dos Planos de Saúde foi particularmente benéfica para as pessoas com HIV. As operadoras de planos privados de saúde, que até então faziam de tudo para não custear as hospitalizações e os medicamentos dos doentes de aids, ficaram proibidas de deixá-los desassistidos.
Em 2014, outra lei do Senado fez história. Ela transformou em crime a discriminação das pessoas com HIV no trabalho, na escola e nos serviços de saúde, com pena de até quatro anos de prisão.
Os métodos de prevenção também se ampliaram. Em 2012, os medicamentos da profilaxia pós-exposições (PEP), uma espécie de pílula do dia seguinte, passaram a ser distribuídas pelo SUS às pessoas que tiveram qualquer tipo de contato com o HIV.
Em 2017, foi a vez de os medicamentos da profilaxia pré-exposição (PrEP) começarem a ser oferecidos na rede pública. A pessoa toma um comprimido por dia e, assim, impede a infecção caso tenha contato com o HIV. Trata-se de uma medida preventiva tão eficaz quanto a camisinha.
Apesar de constituintes de 1987 e 1988 acusarem o governo de ter sido lento na reação à chegada da aids, o médico sanitarista e epidemiologista Draurio Barreira, que atualmente é diretor do Departamento de HIV/Aids do Ministério da Saúde, avalia o contrário:
— Com os olhos de hoje, podemos ver que o envolvimento do poder público, da universidade, dos pesquisadores, dos profissionais de saúde e dos ativistas foi muito rápido. O governo de São Paulo, por exemplo, criou o programa estadual de aids imediatamente, ainda em 1983. O governo federal agiu logo em seguida. E isso num momento em que havia poucos casos registrados. A aids sempre teve muitos holofotes e não pode ser considerada uma doença negligenciada.
A médica sanitarista Maria Clara Gianna, uma das coordenadoras do Departamento de HIV/Aids, avalia os discursos dos parlamentares da Assembleia Nacional Constituinte:
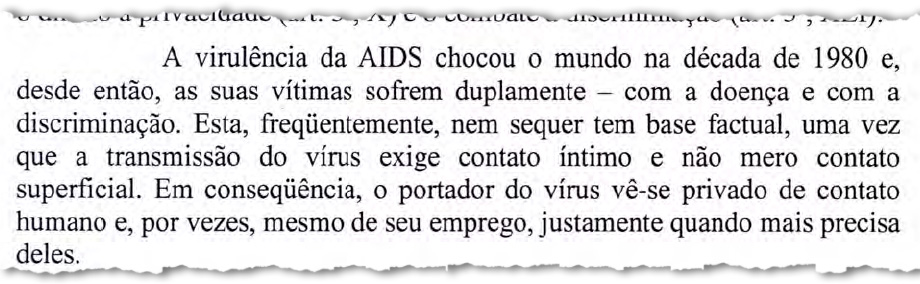
— Não me assusta a existência de avaliações preconceituosas em relação às pessoas com o vírus 35 ou 40 anos atrás, no início da epidemia. O que me assusta é a persistência desse mesmo tipo de avaliação hoje, tanto tempo depois. Já dispomos de instrumentos suficientes para acabar com o HIV como problema de saúde pública. Basta distribuir os métodos de prevenção, testar as pessoas e tratar adequadamente as infectadas, de modo que a carga viral delas fique indetectável. O estigma e a desinformação, contudo, ainda são obstáculos enormes no nosso caminho.
O Brasil se comprometeu com a Unaids (programa da Organização das Nações Unidas de combate à aids) a tirar da aids o status de ameaça à saúde pública até 2030.
Ex-ativista da luta contra a aids e hoje professor de saúde coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Mário Scheffer explica que os últimos anos foram de retrocesso no enfrentamento do HIV e deixaram o Brasil mais distante dessa meta:
— Os retrocessos estão ligados ao ambiente de extremismo, discriminação e violência contra as populações mais vulneráveis ao HIV, como gays, mulheres, transexuais e negros, que não são acolhidas e se afastam da testagem, da prevenção e do tratamento. Materiais educativos foram proibidos nas escolas, censuraram questões de gênero e sexualidade, o combate ao racismo e à homofobia sofreu retrocessos. Para combater o HIV, não bastam as bases científicas. O respeito aos direitos humanos é essencial. Ainda estamos longe do tão sonhado início do fim da aids.
Reportagem: Ricardo Westin/ Agência Senado.
Edição de foto: Ana Volpe e Pillar Pedreira
Pesquisa histórica: Arquivo do Senado
Fotos Reprodução.